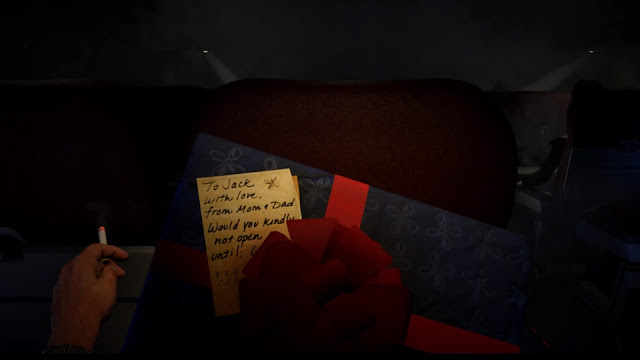Quase três meses desde
o último post aqui no blog já devem ser o suficiente pra muitos leitores
estarem achando que eu bati as botas (ao menos pra quem não me segue na página
do Facebook ou Twitter).
Se serve como desculpa,
eu estou em vias de me formar e, nos próximos meses, vou me valer do direito de
quem enfrentou uma rotina estressante de trabalho e estudos pra simplesmente
mandar a porra toda pro espaço e ficar de pernas pro ar sem me preocupar com
muita coisa.
Por “pernas pro ar”
entenda-se: a rotina de trabalho escrota continua a mesma, só que com o bônus
de poder descansar as pernas depois que chegar em casa (ao invés de ter que
subir em uma moto, aguentar uma hora e meia de trânsito e passar o resto da
noite sentado numa cadeira super "confortável" de faculdade).
 |
| Não é não? Então qual o sentido em fazer essa merda??? |
Mas o que raios o
leitor tem a ver com a minha rotina? Simples: esse descanso merecido significa
que vou ter mais tempo pra escrever (e jogar, pré-requisito básico para
escrever) e adiantar um pouco o ritmo de postagens aqui no blog (o que não
significa, necessariamente, um compromisso com regularidade de posts).
Se tem uma coisa boa
pros leitores do blog que são fãs da franquia Bioshock é que todo esse tempo
acabou servindo pra tocar as coisas pra frente na tarefa de analisar a querida
trilogia de Levine. Mesmo com o blog parado eu continuei jogando o Infinite e fazendo
as anotações necessárias para escrever a análise definitiva desse jogo (que já
recebeu outros textos no passado mas nada de definitivo com relação a veredito
ou nota final).
 |
| Essa tchuchuca poderia desquebrar meu círculo quantas vezes ela quisesse... P.S: comentário com contexto sexual #1. |
Isso significa que,
provavelmente, o texto do infinite vai sair quase que imediatamente depois que
este aqui tiver sido postado (mas aviso logo que essa afirmação não pode ser
levada a ferro e fogo, dada a minha extrema dificuldade em cumprir promessas
aqui no site).
Partindo pro que
interessa ao post, Bioshock 2 é um velho conhecido aqui no blog. Além de eu já
ter jogado esse jogo mais vezes do que consigo me lembrar, ele já foi alvo de
dois outros textos no passado: no Múltiplos Choques Biológicos (clique AQUI
para ler )
eu relatei minhas desventuras em um dos modos online mais divertidos que eu
havia experimentado até o momento.
 |
| Onde vende essa coisa fofa? (me refiro à pelúcia, não chame a polícia please) |
Já no Cafofo de Minerva
(clique AQUI para ler )
eu contei a minha experiência com (o único relevante) conteúdo por download do
Bioshock 2. Se não liga pra formatação de blog tosca, espaçamento de texto pouco
convidativo (mas com as mesmas opiniões afiadas), leia e divirta-se por sua
conta e risco.
Depois dessa
introdução que em outros blogs já daria um post por si só, é chegada a hora de
saber o que eu finalmente acho da experiência (off-line) do Bioshock 2 como um
todo. Ele consegue superar o primeiro? Seu enredo é um desastre como alguns
acusaram internet afora? E jogar com um Big Daddy, é gostosinho ou não é, afinal
de contas? Puxa uma cadeira que eu vou responder a isso e muito mais nas
bilhares de palavras que serão digitadas a seguir.
POR
GENTILEZA, VOCÊ PODERIA... AH, ESQUECE (7,5)
A cena inicial (em
baixa resolução, WTF!) nos apresenta a Subject Delta, um dos primeiros modelos
de Big Daddy funcionais que acaba se “separando” de Eleanor, sua candidata a Little
Sister da vez. E sim, aspas precisam ser usadas quando você descreve o ato de
levar um tiro na têmpora com o eufemismo de “se separar” de alguém.
Delta (nunca ficamos
sabendo o verdadeiro nome dele, não que isso importe muito pra trama) é morto por
Sophia Lamb, a mulherzinha malvada da história que certamente te lembra uma professora de infância, e revive numa Vita Chamber
(aqueles checkpoints disfarçados de maquinário tecnológico que já tinham no
primeiro jogo).
Voltando dos mortos, o
grande urso tem uma simples missão: encontrar Eleanor e derrotar Sophia Lamb,
um Andrew Ryan de saias com apenas metade do carisma e reviravoltas mind
blowing do antagonista do jogo original.
 |
| Ciência sem rédeas e criancinhas: existe o errado, o muito errado e o absurdo. Depois do absurdo vem o enredo de Bioshock. |
Ironias à parte, eu
acho bem legal quando os roteiristas pegam um elemento de jogabilidade e inserem
na trama (as Vita Chambers). Quando feito da forma correta, passa a sensação de
que os elementos do game estão integrados de forma coesa ao enredo e que os
personagens são inteligentes o bastante pra não ignorar uma vantagem óbvia que
um determinado recurso de jogo pode lhes proporcionar.
Sobre jogar com um Big Daddy, no departamento
das “surpresas que vão fazer seu cu cair da bunda”, não houve relatos mundo
afora de nenhum orifício desabando ao chão por causa desse detalhe de
jogabilidade, visto que esse recurso deixou de ser surpreendente desde a parte
final do primeiro jogo (se ainda não leu o texto do primeiro Bioshock, clique AQUI )
 |
| Pai coruja, aberração científica e troll nas horas vagas. |
Novamente, eu acho que
a ideia de jogar com o Big Daddy estava planejada desde o primeiro jogo, como
falei, na parte final, mas deve ter sido simplificada por razões de
desenvolvimento da época (é mais fácil arriscar e pensar grande quando uma
franquia já está estabelecida no mercado). Mas falarei melhor sobre essa
experiência na parte do Sistema.
Bioshock não seria
Bioshock sem uma pessoa chata no comunicador/rádio/autofalantes te enchendo o
saquinho a cada cinco passos que você dá, concorda? Então, dessa vez a batata
quente caiu na mão da Tenenbaum fazer as vezes do tutor chato que passa os
objetivos pelo rádio. O enredo dá a desculpa (não lá muito convincente) de que
ela volta a Rapture porque descobre que estão “fabricando” novas Little Sisters
depois da queda de Ryan, fato esse que gera certo sentimento de culpa na moça.
 |
| Essa cena é tão legal que eu simplesmente não canso de ver. |
Esse tipo de buraco no
enredo me lembra o caso da Ellen Ripley no filme Aliens. Não me entenda mal:
nem todas as páginas do Word seriam suficientes pra mensurar como eu amo Aliens,
Ellen Ripley e tudo que envolve a franquia Alien. Mas fica difícil levar a sério a razão de uma personagem estar indo pra um lugar quando existem MIL outras
alternativas pra resolução de um conflito que os roteiristas, preguiçosamente,
esperam que você engula pra justificar o porquê de apenas a personagem X poder enfrentar
a ameaça Y.
Será que Tenembaum
nunca pensou em chamar a polícia, ou a ONU, e denunciar os absurdos que estão
acontecendo lá embaixo na cidade submersa de Rapture? Por que raios ela tem que
retornar a uma cidade infernal da qual ela teve o maior trabalho pra escapar só
porque os roteiristas querem e ponto?
 |
| Um afronta de cores quentes aos olhos dos mais sensíveis. |
Enfim, buracos de
motivação à parte, e apesar de eu ter apelidado esse jogo de Bioshock 1,5, no cômputo
final das coisas eu acho que ele até que consegue trabalhar bem a ideia de
girar em torno do primeiro game (há quem ache o roteiro desse segundo um
desastre, o que eu acho um baita exagero).
No Ryan’s Amusement,
por exemplo, há uns dioramas com narração que explicam como a cidade foi
construída, coisa que tem de sobra no livro de John Shirley mas que faltou no
primeiro jogo. Quero dizer, no jogo anterior havia uma tonelada de áudios (largados
desleixadamente em quaisquer lugares do cenário) pra tudo, mas nenhum deles
contava com relatos do fundador da cidade. Sendo assim, montar um parque
temático sobre a construção de Rapture é uma coisa que, além de enriquecer o
design da cidade, faz todo o sentido narrativo.
No momento que segue
do texto, aqueles que acharam o roteiro do Bioshock 2 um desastre não terão
muito o que comemorar. Sim, eu sustento que o impacto das revelações no
primeiro era sem igual se comparado a este aqui. Entretanto, o primeiro Bioshock
carecia de momentos que te fizessem questionar seus atos durante a campanha.
 |
| Rosa: alguém na 2K gosta muuuuuuito da cor rosa... |
As escolhas morais
desse aqui, mesmo que não alterem o final de forma significativa, possuem mais
peso narrativo que no primeiro jogo, a meu ver. Eu sei que o tom do Bioshock
original era a falta de escolhas do protagonista/você, mas não custava nada
colocar opções que permitissem o jogador refletir um pouco sobre a natureza do
personagem principal enquanto mera ferramenta social de manipulação biológica.
Isso, de fato, acontece mais no segundo jogo, visto que as decisões que você
toma serão julgadas por Eleanor no final.
O dilema de Gil
Alexander, por exemplo, faz o jogador realmente se questionar se fez a escolha
certa: eu devo eutanasiá-lo e fazer sua vontade ou atender a seus apelos
loucamente desesperados pela própria vida? Quem está certo nesse caso: a razão
ou o instinto de sobrevivência? O eu racional passado de Alex ou o atual, que afirma ter mudado de ideia e pede pra ser poupado?
 |
| Gil Alexander: tem algo de muito errado com esse cara... |
Só é uma pena que esse momento
dramático do enredo seja subaproveitado pela história, visto que não se vê
muito das consequências da sua decisão. Uma vez que Bioshock 2 não possui um
chefe final, seria legal se você enfrentasse Alex The Great como último
oponente, caso poupasse sua “vida”.
Bioshock 2 não conta
com um plot twist absurdo que vai te fazer repensar a forma como vinha jogando
o game até então (Would you kindly...), mas ele traz alguns momentos
épicos para o lore da franquia órfã de Ken Levine. A parte onde tomamos
controle de uma Little Sister para libertar Delta é, sem dúvidas, o ponto mais
alto do jogo, sendo esse outro trecho que também me passou a impressão de que
foi cortado às pressas do jogo anterior por causa de volume (ou pra evitar redundância de jogabilidade).
 |
| Anjos, borboletas e pétalas de rosa: seria poético se fosse verdade. |
Nessa parte é chegada
a hora de você finalmente entender o porquê das pequenas tecerem comentários
“nada a ver” como “Anjos dançando” ou o jeito alegre como elas passeiam pelos
cenários imundos e decadentes de Rapture como se estivessem caminhando no
Jardim do Éden. Acredito que essa foi uma forma de ilustrar que, apesar das aberrações
que elas se tornaram, as Sisters conservam sua inocência pueril e forma sem maldade de enxergar o mundo, por pior e mais brutal que ele seja...
A (segunda) melhor
parte da história é quando chegamos a Fontaine Futuristics. As instruções de
como prosseguir são passadas por um homem chamado Gil Alexander. O detalhe é
que o Gil Alexander atual enlouqueceu por causa de experimentos com Adam e se
encontra virtualmente “incapaz de morrer”, pra não usar a palavra “imortal”.
 |
| Quem é o verdadeiro monstro de Bioshock 2? |
É assustador e meio
esquizofrênico o contraste das mensagens de seu eu passado (por meio das
gravações de quando ele ainda estava são) e seu presente estado de insanidade.
Os Alpha Series, um tipo de Big Daddy Frankenstein, também são um elemento bem
marcante desse trecho do enredo. Eles são bem assustadores e, não fosse a baixa
dificuldade do game mesmo nos níveis mais altos, se configurariam como
oponentes desafiadores de derrubar.
Outro momento que eu
também achei super legal e fan servisse pra quem gostou do primeiro jogo: o
Plasmid de Teleporte instável. Se você leu o post sobre o multiplayer deste jogo
deve ter percebido a minha vontade de usar esse Plasmid no gameplay em tempo
real, desde o primeiro game.
 |
| Esses caras sabem como tirar o doce da sua boca... |
Pois bem, aqui isso é
mais ou menos possível, não fosse pelo fato de que o Plasmid de teleporte que
encontramos está com “defeito” e fica te levando a locais que fogem do seu
controle. É uma crítica bem sutil dos perigos de utilizar ciência sem amarras
morais, ferramenta essa que pode acabar fugindo do controle. Mas fique avisado
que é possível perder esse evento do game, caso você não insista em perseguir o
Plasmid fujão pelos cenários.
Já a parte final, onde
Eleanor usa os trajes de uma Big Sister, poderia ser mais legal. Isso se não fosse
pelo fato de que ela é carregada de combates sem propósito com inimigos em
horda que só estão lá para prorrogar o contador de gameplay do jogo. Mas veja
pelo lado bom: a fase final desse jogo não conta com uma estatueta do Oscar
como final boss, o que já é um grande salto pra humanidade como um todo.
 |
| Sim, rola um pouco de apelo ao seu emocional. Mas funciona. |
Só pra finalizar, o
enredo e os eventos de Bioshock 2 não se equiparam aos do primeiro game, mas
não são desleixados ou sem nenhum significado pra quem joga. Mesmo sendo um
repeteco criativo do game anterior com melhorias, ele é cheio de personalidade
própria e acerta em vários pontos quando deixamos de lado originalidade pra
analisar apenas a sua execução.
ANJOS
DANÇANDO NO CÉU AO ESTOURAR DE BOLHAS
(GRÁFICOS:
9,0; SOM: 9,0)
De forma geral,
enquanto um mero patch com melhorias em cima da base do primeiro jogo, Bioshock
2 é apenas um pouco mais bonito e polido que seu antecessor, com visuais mais
suaves e bem trabalhados (o que nem de longe é pouca coisa, visto que o jogo anterior já era um dos mais bonitos de começo de geração).
Nada que vá te fazer
pensar que está jogando um novo jogo, e sim que está retornando a um local anteriormente
visitado, só que por outra ótica. Talvez eu esteja colocando panos quentes, mas
esse fenômeno casa bem com o gosto de spin-off não oficial que esse jogo deixa
na sua boca ao final do dia.
Sobre o design em si, ele
é um pouco mais Joel Schumacker do que o primeiro Bioshock conseguiu ser também
(quem leu meu primeiro texto vai sacar a referência). Em parte, isso é bom, já que
confere ao teor artístico do game uma personalidade própria que o faz se
destacar por seus próprios méritos (por mais decadente que um parque de diversões
seja, ela ainda deve ser colorido e chamativo).
 |
| Chuuupa, Batman Eternamente! |
Como já adiantei, em
questão de design, não seria forçar a barra que o jogo se passasse na mesma
cidade e tenha locais inéditos. Isso se justifica porque, já no começo do
primeiro jogo (quando você avista as construções pela janela da Bathysphere), ficava bem claro
que Rapture era bem maior do que as partes as quais podíamos explorar.
Pra fechar um
subtópico que não tem muito pra onde ir, os visuais agora estão melhores, com
animações mais suaves (as Little Sisters estão mais humanas e menos
cartunescas) e efeitos idem. Mas nada que vá te impactar tanto a ponto de
causar estranheza ou abalar sua sensação de familiaridade por estar visitando
um lugar que você conhecia previamente.
 |
| Só gente boa. |
O trabalho com o som,
por sua vez, consegue ser ainda melhor que o do jogo anterior. Sim, há momentos
em que a música buga (como na parte onde precisamos filmar um Brute com a nova
câmera de DNA), mas trilha sonora e efeitos segue a mesma alta qualidade do Bioshock
original.
É bem legal ter um
tema diferente pra cada tela de load, quando trocamos de ambiente. Se você tem
o costume de jogar em 36X sem juros, prepare-se pra decorar a música do
Boogieman, entre outras faixas legais de época. De resto não tem mais o que
falar: os efeitos sonoros são muito bons, acompanhados por uma dublagem que é, pra dizer o mínimo, competente.
DUAS MÃOS
PARA A TODOS GOVERNAR (6,5)
Como de costume, o
tópico Sistema será o maior e derradeiro do post, então corta aquela fatia marota
de panetone e senta que lá vem história. De cara, a maior mudança de sistema é poder
usar as duas mãos ao mesmo tempo, no melhor estilo Skyrim (que sairia um ano depois,
vale ressaltar).
Eu sei, é bem tosco
jogar todo o primeiro game sem perceber as limitações de ter que alternar entre
arma e Plasmid nos combates. Mas veja pelo lado bom: você só vai se incomodar
com isso caso jogue novamente o primeiro depois de ter experimentado o segundo.
Pra quem nunca joga o mesmo jogo duas vezes isso nem chega a ser um problema.
Como estamos no
controle de um papai urso agora, no lugar da chave de “would you kindly”
cano, dessa vez temos como arma melee uma broca de Big Daddy. Lembra daquela
cena super legal do primeiro Bioshock (que por algum caralho de motivo foi
RETIRADA da versão remasterizada) que rolava se você não apertasse nenhum
botão, por algum tempo, no menu inicial?
 |
| "O papai vai ter perfurar com a broca dele, mas não juro que não vai doer nada..." P.S: prometo que vou tentar parar com os comentários de contexto sexual. |
Então, agora você
mesmo pode, em tempo real, brincar de atravessar Splicers afoitos com sua broca
sanguinária e ser feliz contando os pedaços de entranhas que caem no chão depois. Mesmo
o excesso de combustível da broca (nos cenários) se justifica depois que aprendemos
o combo de Electrobolt + Investida com a broca (R2 + O). Bem legal, muito
embora que tardio e subaproveitado.
Como já deixei
escapar, aquele excesso de itens que havia no game anterior está ainda pior que
antes. Mesmo no nível Hard vão sobrar recursos logo na fase tutorial, então se
acostume a ouvir o som de negação ao vasculhar objetos e cadáveres nos
ambientes.
 |
| "Furo com a broca ou enfio a chave de cano?" P.S: eu disse que ia TENTAR parar... |
Fica o aviso a Levine
em seus futuros jogos (se é que eles chegarão a acontecer): controlar um Big
Daddy não significa que temos a inteligência de um, então não precisamos de
itens de recuperação a cada cinco passos no cenário. Só porque um jogo é de
tiro, não quer dizer que precisamos atirar (ou broquear, nesse caso)
descontroladamente pelos ambientes.
Sobre os fundamentos
de gameplay nesta sequência, a ideia central da jogabilidade, agora, é
roubar a Little Sister de Big Daddies espalhados pelos cenários. É um
conceito super simples, mas bem legal, que consegue segurar as pontas e maquiar
o fato de que estamos praticamente rejogando o primeiro Bioshock com cenários
diferentes (e jogabilidade um pouco aprimorada).
Depois de adotá-las, é
hora de colocar as danadinhas pra coletar Adam pra você (como acontece a
transferência é um detalhe que o jogo não se preocupa em explicar...). Mesmo
não sendo uma mecânica original (é uma repaginada do que já fazíamos no
primeiro jogo), é algo bem prazeroso de se fazer, visto que temos a chance de
nos colocarmos na pele de um Big Daddy e conhecer o outro lado da moeda (o do
protetor, ao invés do Splicer loucão que é capaz de tudo pra conseguir uma carreira de Adam pra cheirar).
 |
| "Desde que eu não tenha que pagar pensão, pra mim tá de boas." |
Coletar Adam exige certa
dose de planejamento e preparação do jogador, visto que o simples ato atrai uma
horda de Splicers que vão encher seu saco até que o processo acabe. Pra piorar,
em determinados pontos chaves do jogo, ao terminar a coleta você terá que
enfrentar uma Big Sister. Escolha bem suas armas e armadilhas nessa hora, pois
você vai precisar...
Falando nelas, um
confronto com uma Big Sister pode ser visceral e assustador nas primeiras vezes
em que elas aparecem. Ela vai te atrair pra perto usando Telekinesis e vai
disparar bolas de fogo com Incinerate, caso esteja longe. Era disso que eu
falava, no primeiro texto, quando dizia que queria ver inimigos usando Plasmids
de forma mais generalizada nos combates. Pena que isso se resuma a essas subchefes e não se
expanda aos inimigos comuns de Rapture.
 |
| Um elemento com enorme potencial de terror desperdiçado... |
Por causa da
possibilidade das duas mãos, o uso de Plasmids também se tornou mais prazeroso
e recompensador. Além da recarga de MP, digo, Eve estar mais rápida (nada de
animação estilo Flask de Dark Souls pra injetar o líquido), os Plasmids, de
forma geral, consomem menos recursos pra ativar.
Ainda no campo do maior
fator de diversão dessa série, os Plasmids, os criadores corrigiram a hitbox do
Incinerate, só pra dar um exemplo. Agora o disparo não passa (tão fácil) entre
as pernas ou lateral dos inimigos, tornando seu uso menos frustrante. Os
Plasmids, mesmo vindos quase todos do primeiro jogo, possuem versões que vão
além do reles “causar mais dano”. O Incinerate, por exemplo, pode ser carregado
no segundo nível e se espalha por inimigos próximos. O nível dois do Winter
Blast permite que você estilhace inimigos e não perca o loot, e assim por diante.
 |
| O tempo não para enquanto você hackeia. Em compensação, a diversão é garantida. |
O ato de hackear, um
pesadelo de alguns jogadores menos pacientes, agora é realizado com uma arma, a
Hack Tool (ainda dá pra hackear de perto, caso você imobilize o alvo). Essa ferramenta
é prática, abre novas janelas de gameplay (desculpem, não resisti à referência)
e soam bem melhor que aqueles malditos puzzles de encanações que pareciam ter saído de um
game do universo Shadowrun.
Falando de exploração,
o design de fases muitas vezes é bastante confuso. Ryan’s Amusement Park parece
uma favela onde os moradores se utilizaram de uma liquidação de decoração
natalina pra iluminar os ambientes. De forma geral os cenários são mais
labirínticos que antes também.
Pra piorar, há um
bloqueio de área com o progredir da história que eu, particularmente, não vejo razão
nenhuma de ser, visto que no jogo passado você conseguia voltar pra
praticamente qualquer ponto do jogo e explorar do jeito que mais lhe conviesse.
 |
| Os Big Daddies ajudaram na fundação de Rapture. Agora eles só bebem cerveja e assistem futebol. |
Entretanto, nem tudo
são pedradas. Por exemplo, alguns Tônicos parecem vir num momento de jogo mais
apropriado que antes, aumentando sua razão de existir. O melhor exemplo fica
por conta do Booze Hound, aquele tônico que te faz ganhar Eve ao invés de
perder, caso você ingira bebida alcoólica.
Já a câmera que
fotografava DNA (isso é o que eu chamo de fenocópia genética!!!) agora é uma
filmadora que grava sua performance ao derrotar um inimigo. Quanto mais variado
e criativo você der cabo de um alvo, mais pontos vai receber. É mais divertido
e te livra da tarefa chata de ter que ficar trocando de arma no meio dos
combates, apesar de continuar não fazendo o “menor sentido biológico” (um
abraço pro Átila Marinho).
 |
| "Algo me diz que eu peguei o caminho errado..." |
Já que toquei no quesito
exploração, eu achei o cenário final desse jogo cansativo e chato. Simplesmente
colocaram uma série de confrontos pra tapar buraco e uma tonelada de mensagens
de rádio pra encher sua paciência. Parece que prolongaram a parte final só
pra você poder “curtir” o Plasmid de chamar a Big Sister. Chaaaaaato!
É o clássico caso de
obra de entretenimento que não sabe a hora de acabar. Com algumas locações a
menos no final ele terminaria com a recente (e ótima) lembrança na cabeça do
jogador de ter vivenciado o ponto de vista das Little Sisters, o que, pra mim,
seria uma maravilhosa forma de encerrar essa história.
BRIGA DE
TRAVESSEIRO EMBAIXO D’ÁGUA
Apesar do gostinho de
Bioshock 1,5 que esse jogo deixa na boca, ele é o exemplo de sequência feita do
jeito certo, pelo menos do ponto de vista dos aspectos técnicos e de
jogabilidade (a parte criativa desse projeto divide opiniões até hoje). Ele
pega tudo de bom realizado no game anterior e melhora a experiência do jogador,
mesmo sem adicionar muitas novidades no processo.
Bioshock 2, entretanto,
não consegue se livrar do seu estigma de DLC avantajado que, das duas uma: ou
vai chatear ainda mais quem cansou das mecânicas do primeiro game, ou vai
servir apenas como um aperitivo a quem adorou a aventura original em Rapture
(sem, de fato, acrescentar nada de muito relevante à franquia).
NOTA FINAL: 8,0
Nessa última jogada,
para escrever esse texto, eu me chateei bastante com alguns pontos do jogo (se
você leu corridamente até aqui sabe quais são). Mesmo assim, decidi não reduzir
a nota final dele, pois esse desconforto pode ter se dado por causa da obrigação
de jogar só pra dar continuidade às análises da triologia Bioshock aqui no Mais
Um Blog de Games.
No cômputo final das
coisas ele soma pontos por melhorias que, diga-se de passagem, já poderiam ter
sido adicionadas via patches no primeiro jogo, mas perde alguns outros pontos por
ser apenas mais do mesmo, só que com menos profundidade e questões sociais e
existenciais para nos assombrar.
 |
| A felicidade no sorriso da pequena meliante compensa qualquer coisa! |
E é isso, folks. Não tem
nada mais a acrescentar sobre Bioshock 2 que não esteja detalhado nas linhas
acima. É um jogo muito bom e, em alguns aspectos de gameplay, mais divertido
que seu antecessor, mas sem representar uma experiência tão marcante na sua
trajetória gamer.
Se você gosta da
trilogia Bioshock, fique ligado que nas próximas semanas sai a análise do Infinite,
outro jogo que também teve textos paralelos aqui no blog mas sem nunca ganhar um
veredito definitivo.
Au Revoir.